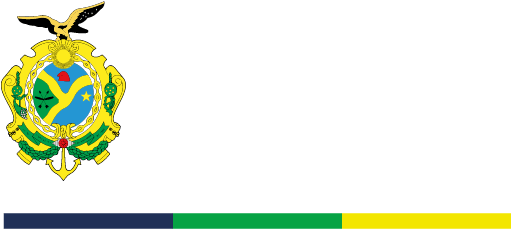Pesquisa mostra que o português brasileiro já pode ser considerado único, mas ainda não é uma língua autônoma

Análise de textos antigos e de entrevistas expõe as marcas próprias do idioma no país, o alcance do R caipira e os lugares que preservam modos antigos de falar (O Violeiro, de Almeida Júnior, 1899)
A possibilidade de ser simples, dispensar elementos gramaticais teoricamente essenciais e responder “sim, comprei”, quando alguém pergunta “você comprou o carro?”, é uma das características que conferem flexibilidade e identidade ao português brasileiro.
Siga a FAPEAM no Twitter e acompanhe também no Facebook
A análise de documentos antigos e de entrevistas de campo ao longo dos últimos 30 anos está mostrando que o português brasileiro já pode ser considerado único, diferente do português europeu, do mesmo modo que o inglês americano é distinto do inglês britânico.
O português brasileiro ainda não é, porém, uma língua autônoma: talvez seja – na previsão de especialistas, em cerca de 200 anos – quando acumular peculiaridades que nos impeçam de entender inteiramente o que um nativo de Portugal diz.
A expansão do português no Brasil, as variações regionais com suas possíveis explicações, que fazem o urubu de São Paulo ser chamado de corvo no Sul do país, e as raízes das inovações da linguagem estão emergindo por meio do trabalho de cerca de 200 linguistas.
De acordo com estudos da Universidade de São Paulo (USP), uma inovação do português brasileiro, por enquanto sem equivalente em Portugal, é o R caipira, às vezes tão intenso que parece valer por dois ou três, como em “porrrta” ou “carrrne”.
Associar o R caipira apenas ao interior paulista, porém, é uma imprecisão geográfica e histórica, embora o R desavergonhado tenha sido uma das marcas do estilo matuto do ator Amácio Mazzaropi em seus 32 filmes, produzidos de 1952 a 1980.
Seguindo as rotas dos bandeirantes paulistas em busca de ouro, os linguistas encontraram o R supostamente típico de São Paulo em cidades de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, formando um modo de falar similar ao português do século XVIII.
O “S” chiado
Quem tiver paciência e ouvido apurado poderá encontrar também na região central do Brasil – e em cidades do litoral – o S chiado, uma característica hoje típica do falar carioca que veio com os portugueses em 1808 e era um sinal de prestígio por representar o falar da Corte. Mesmo os portugueses não eram originais: os especialistas argumentam que o S chiado, que faz da esquina uma “shquina”, veio dos nobres franceses, que os portugueses admiravam.
“A gente” e “nós”
Célia Lopes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), encontrou registros de “a gente” em documentos do século XVI e, com mais frequência, a partir do século XIX. Era uma forma de indicar a primeira pessoa do plural, no sentido de todo mundo com a inclusão necessária do eu.
Segundo ela, o emprego de “a gente” pode passar descompromisso e indefinição: quem diz a gente em geral não deixa claro se pretende se comprometer com o que está falando ou se se vê como parte do grupo, como em “a gente precisa fazer”.
Já o pronome nós, como em “nós precisamos fazer”, expressa responsabilidade e compromisso. Nos últimos 30 anos, ela notou, a gente instalou-se nos espaços antes ocupados pelo nós e se tornou um recurso bastante usado por todas as idades e classes sociais no país inteiro, embora nos livros de gramática permaneça na marginalidade.
Linguistas de vários estados do país estão desenterrando as raízes do português brasileiro ao examinar cartas pessoais e administrativas, testamentos, relatos de viagens, processos judiciais, cartas de leitores e anúncios de jornais desde o século XVI, coletados em instituições como a Biblioteca Nacional e o Arquivo Público do Estado de São Paulo.
Leia reportagem completa aqui
Com informações de Carlos Fioravanti, da Revista Pesquisa FAPESP