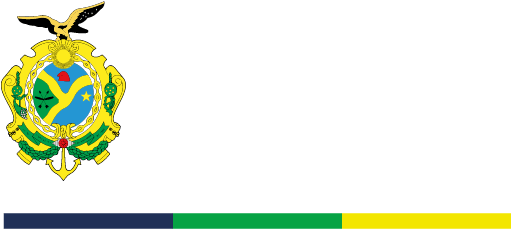Celebrações mesclam fé e cultura popular na Amazônia
25/04/2013 – As festas populares evidenciam a tradição de um povo e mesclam, muitas vezes, o sagrado e o profano, em um mesmo espetáculo. Na Amazônia, a religiosidade é marcante em grande parte dessas festas, porém a cultura popular não é esquecida.
No Brasil, a origem das festas populares está enraizada nas três matizes que compõem a identidade nacional – o branco, o negro e o índio. O doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP), Sérgio Ivan Gil Braga, afirma que as manifestações populares surgiram ainda nos primeiros anos com a presença lusa no País, época em que as primeiras expedições europeias tomavam a área norte da terra de Santa Cruz.
Siga a FAPEAM no Twitter e acompanhe também no Facebook
“A cultura híbrida do Brasil está relacionada às raças que formaram a população, sendo que o índio, o negro e o branco e suas culturas influenciam algumas práticas. Isso é possível perceber em manifestações populares como a música, a arte e o folclore”, disse.
Braga, que desde 1991 é professor e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), publicou o livro ‘Cultura popular, patrimônio imaterial e cidades’, com apoio da Fapeam, e tem se dedicado a estudar sobre a cultura dos povos da Amazônia, em especial, as festas da região.
De acordo com o antropólogo, o Amazonas sofreu influência da cultura portuguesa a partir do século 16. Uma evidência disso é a presença marcante da religiosidade nas cidades do Estado.
"Várias comunidades das áreas de várzea do Estado acabaram recebendo um nome de um santo, o que é motivo de festa e comemoração. Nossas danças dramáticas, nosso folclore, têm uma dimensão religiosa que está associada ao catolicismo por sermos um País de colonização ibérica, uma monarquia indissociada da igreja", destacou.
Na cultura portuguesa, a maioria dos santos recebe homenagens na data da morte, o que evidencia o martírio. Somente em pequenas situações comemora-se o nascimento. “No Festival de Parintins, a religiosidade está presente não apenas na homenagem à Santa Padroeira (Nossa Senhora do Carmo), mas também quando se representa a vida, a morte e a ressurreição. A própria festa encena a morte e ressurreição do boi, momento de destaque para o índio na figura do pajé. Na festa, é possível ver as matrizes do povo brasileiro – branco, negro e índio", analisou o pesquisador.
Outro indício da influência portuguesa sobre as festas populares da Amazônia, segundo Braga, é o ciclo junino. “Em junho, Portugal comemora o solstício, que representa o início do verão no País. No período, os portugueses reverenciam três santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. No Amazonas, as festas de junho podem estar relacionadas à manifestação portuguesa. Entre as inúmeras comemorações cristãs, o Estado tem o Santo Antônio de Borba; e o Festival de Parintins, que acontece sempre na época de São João e São Pedro e está associado aos pescadores", pontuou.
De acordo com o pesquisador, a Ciranda de Manacapuru – que está ligada às comemorações do mês de junho – tem relação com os antigos ranchos e reisados da cultura lusa. “A data da festa precisou ser mudada para o mês de agosto, para não concorrer com o boi de Parintins. O Sairé, do Pará, também está relacionado às festas juninas, mas se deslocou para setembro”, explicou.
Quanto à subjetividade dessas festas, o jogo e a ironia são características marcantes da cultura portuguesa presente nas expressões populares do Estado. “A ironia seria uma forma de resistência. Nas manifestações, as coisas são ditas de forma metafórica. Quem entende tem interesse naquilo que está sendo dito", defendeu Braga.
O índio também deixou sua marca na cultura regional. Um elemento indígena presente nos festivais da Amazônia é o ‘segredo’. “Nem tudo é revelado. Poucas pessoas conhecem os cantos da região. Isso é algo que é muito peculiar no folclore, na cultura da oralidade, em que se transmitiam os costumes de pai para filho", esclareceu o pesquisador.
 Registros históricos evidenciam que os negros também influenciaram as origens das festas populares da Amazônia, especialmente na música. “Há evidências da expressão musical negra no Festival de Parintins desde 1959. Na época, a música dos tambores já era muito forte", disse o pesquisador.
Registros históricos evidenciam que os negros também influenciaram as origens das festas populares da Amazônia, especialmente na música. “Há evidências da expressão musical negra no Festival de Parintins desde 1959. Na época, a música dos tambores já era muito forte", disse o pesquisador.
Na avaliação de Braga, a transformação da brincadeira em espetáculo vai além dos interesses comerciais e faz parte do patrimônio imaterial da Amazônia. “Podemos dizer que Parintins se divide em antes e depois do boi. Às vezes, os festejos estão associados a interesses dos próprios municípios, à concorrência entre as cidades e à valorização da cultura popular para atrair públicos”, disse.
Na opinião do pesquisador, cabe ao poder público o desafio de manter a ordem e proporcionar condições para a realização dos grandes eventos locais. “Estou cada vez mais convencido que a cultura popular é uma prática característica da cidade (urbana), tem reminiscências do meio agrário e tem a coisa da resistência do ponto de vista político, uma leitura de mundo que é própria dos segmentos sociais que foram discriminados", finalizou o pesquisador.
Ambiente urbano
Os festivais amazônicos geralmente celebram a colheita. Nos eventos, estão presentes elementos do dia a dia do caboclo. Presidente Figueiredo, por exemplo, realiza a festa do Cupuaçu, uma das frutas mais apreciadas da região. Já Barcelos, promove a festa do peixe ornamental, em que as agremiações dos peixes acará e cardinal se enfrentam em um grande ‘Piabódromo’.
As festas carregam consigo a essência dos costumes passados de geração para geração. O Festival de Parintins começou como uma brincadeira, quando o mestre Monteverde saía pelas ruas da Ilha Tupinambarana para festejar com seu Boi Garantido. Mais tarde, a tradição virou disputa com inserção do Boi Caprichoso.
A professora universitária Nilma Falcon recorda a infância marcada pelos ensaios do boi azul. “Eu adorava ir para a ‘quadra’ onde era organizado o Festival. Meu coração acelerava quando eu via de longe as lanças da ‘vaqueirada’. Lembro que minha mãe apertava minhas mãos. Ela sabia que eu amava os cavalinhos e os cavaleiros no comando. Para mim, eles eram privilegiados. Os brilhos azuis das lanças me encantavam. Meu pai fazia ‘as palminhas’, porque sabia que eu batia mais forte com a chegada da ‘vaqueirada’. Ele dizia: Filha, com ‘estas palminhas’ os cavalinhos irão te ouvir’. Ainda hoje, me emociono muito com eles, porque faz parte de minha infância com meus pais”, contou.

Geralmente, as festas amazônicas começam em ambientes comunitários, como associações, quadras, escolas e até residências de famílias tradicionais.
Com o passar do tempo, os festejos migram para as arenas dos centros urbanos. Atualmente, o Festival de Parintins ganhou dimensões gigantescas, com direito a transmissão em rede nacional, patrocínio de marcas internacionais e com a presença de personalidades marcantes.
No último fim de semana de junho, o Bumbódromo, onde é realizada a festa atualmente, vira cenário da vida cabocla, representada em um enredo que envolve itens como a sinhazinha da fazenda, a cunhã-poranga, a batucada ou marujada, lendas amazônicas e ritual indígena, pajé e a evolução do boi-bumbá.
Com pouco mais de 40 anos, o jornalista Arnoldo Santos guarda, na memória, detalhes da disputa entre os dois bois. “Ouvir as músicas, ver as danças, admirar as alegorias, surpreender-se com as criações do boi-bumbá leva a um sentimento singular. Quanto mais fala da vida cabocla, com suas crendices, suas lendas, suas falas, suas nuances, seus gostos e cheiros, mais eu me emociono. Herança dos meus pais, avós e demais parentes, a vida cabocla, vivida na prática, é um ingrediente essencial da minha alma. É isso o que acontece. Só vive o boi-bumbá, como eu vivo, quem vive a Amazônia e seu povo”, avaliou.
Edilene Mafra – Agência Fapeam